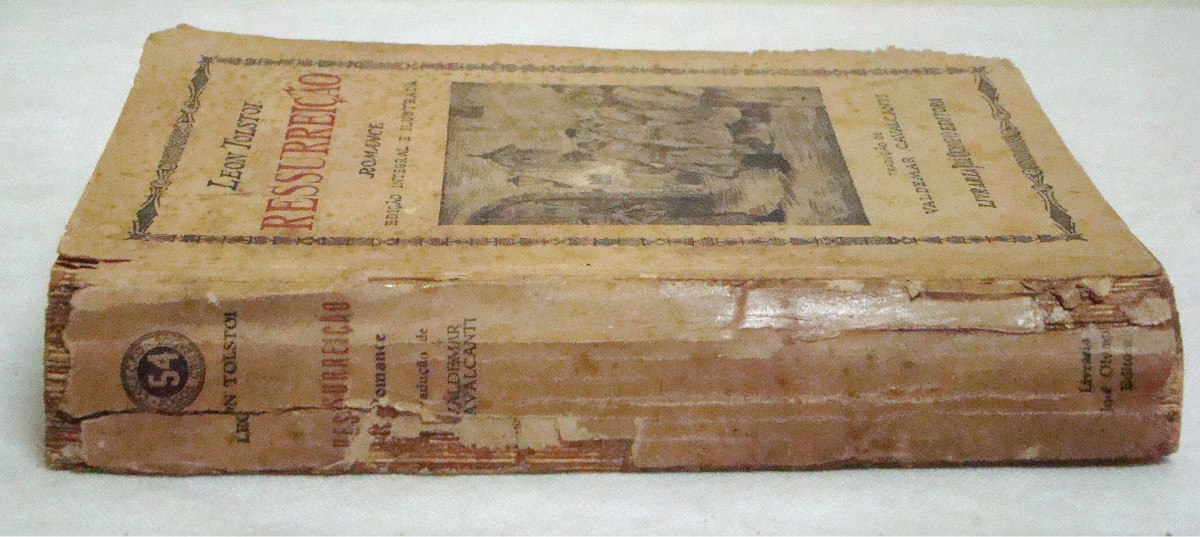No fundo, não havia nada a fazer. Tinha chegado a hora, o Destino estava marcado. Cada um tem aquilo que merece. É um facto que quem procura sempre alcança, mas também é verdade que quem espera desespera.
Há coisas na vida que não se conseguem evitar, e ninguém controla o seu Destino, ora aí está o que é. No entanto, não podemos deixar de dizer que nunca faltou cama a vivos nem cova a defuntos. Se de grandes ceias estão as sepulturas cheias, não é óbvio que por causa das grandes fomes já morreram muitos “homes”? Uma pessoa nunca está à espera, nunca sabemos o que nos vai acontecer, nunca estamos preparados.
O que tudo isto quer dizer é que temos que viver cada minuto como se fosse o último, porque todos os momentos são preciosos e a vida é uma dádiva. Além de que, mesmo nas horas mais negras, há sempre uma luz na escuridão. Sem esquecer que devagar se vai ao longe, até porque as cadelas apressadas têm os filhos malucos, ou cegos. Não podemos querer tudo no momento, porque quem tudo quer tudo perde. Quando chega a nossa hora somos todos iguais.
Da mesma forma, nunca devemos perder a esperança, que é a última a morrer, e o verde é a sua cor, até porque quem tem boca vai a Roma. Embora não possamos tapar o sol com a peneira, nem querer sol na eira e chuva no nabal, tendo em conta que quem nasceu para tostão nunca chega a milhão.
Afinal, no amor e na guerra vale tudo. E não podemos ficar eternamente à espera que D. Sebastião regresse do meio do nevoeiro. Nem ficar satisfeitos apenas com o pão e o circo. Temos que acreditar em nós próprios, ou ninguém fará isso por nós. Não é verdade que querer é poder? Então temos que transformar os riscos em oportunidades, as oportunidades em desafios e aceitá-las!
E, como tudo na vida tem uma explicação, é esta: O Cronista Sem Abrigo precisava de redigir uma crónica onde existissem, unicamente, frases feitas, lugares comuns, chavões, as expressões que todos nós vamos usando automaticamente ao longo do dia, sem ter que pensar para as dizer… Será que esta prova foi superada?